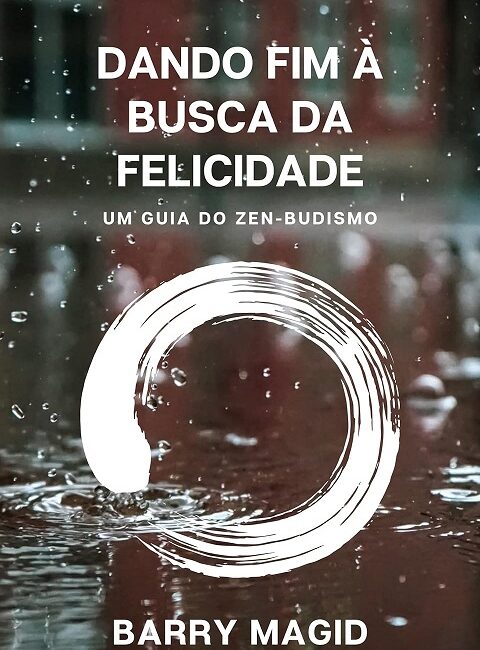Há um livro, publicado aqui no Brasil em 2022, do mestre zen-budista e psicanalista Barry Magid, que tem um título um tanto quanto anticonvencional. “Dando fim à busca da felicidade”. Não é por acaso, já que a mestra de transmissão do Barry foi Joko Beck Roshi, uma outra professora que tinha uma predileção por formas quiçá subversivas de expressar o dharma, como no seu livro “Nada de Especial: Vivendo o Zen”. De fato, a subversão, do dicionário, “ato ou efeito de derrubar, destruir; ruína, destruição, queda”, é justamente o que, me parece, nós precisamos de vez em quando ao falar sobre, e mais importante ainda, praticar o Dharma de Buddha.
Este texto que escrevo aqui é em grande parte uma resenha dos livros do Barry e da Joko Beck que eu tive o prazer, e como também é muito frequente na mesma experiência, o incômodo (já que mexe diretamente com as minhas, bem óbvias, e pouco disfarçadas arrogâncias e inseguranças) de ler. Postulo que todo zen-budista se beneficiaria muito no ato de compreender as palavras desses professores.
Como diz meu mestre Kômyô Sensei: o budismo não é autoajuda. De fato, não o é. O objetivo do budismo não é acalentar o praticante com falsas promessas, e muito menos serve para “ajudar” alguém a conseguir atingir metas e objetivos, como o sucesso no amor, no financeiro ou no espiritual, como os livros de autoajuda geralmente se dispõem.
A prática budista é, de fato, um antônimo de autoajuda. Afinal, quando Joshu perguntou ao seu mestre Nansen, “O que é o caminho?” Ele respondeu: “Sua mente comum é o caminho”. Imagina? Ler um livro de autoajuda que na primeira página está escrito: “Você não precisa de ajuda, jogue este livro fora”? Seria de fato muito curioso. Afinal, nós não queremos nossa mente comum, que nos dá tantos problemas comuns. Queremos ser especiais, queremos ser felizes. Isto é o que Barry Magid diagnostica com precisão em seu livro e uma percepção que, sem dúvida, herdou de Joko sensei. Este, indicam, é justamente o problema. Uma resposta que gostaríamos de ouvir de Nansen, quer reconheçamos isso conscientemente ou não, seria algo como “O caminho é uma estrada que leva ao castelo perolado da suprema e tranquila serenidade, e você, meu caro aluno, está quase lá”.
Afinal, nossa sociedade nos ensina a querer ser, e procurar ser, especiais a todo tempo. E não só especiais, mas bem-sucedidos, efetivamente imortais, continuamente belos, e mais do que tudo: incessantemente felizes. Ao ponto que a busca pela felicidade se torna efetivamente uma prisão. Algumas pessoas procuram a felicidade nos prazeres, outras no trabalho ou no dinheiro, alguns em todos esses. Uma certa porcentagem da população procura a felicidade em lugares mais alternativos: na sua espiritualidade. Por exemplo, no budismo. “Pela meditação eu conseguirei efetivamente me tornar sereno e tranquilo, blindado contra o sofrimento”, se acredita.
Qualquer um que pratique por um tempo considerável eventualmente chegará a conclusão de que não é bem assim. O que acontece é que percebemos o quão miseravelmente medíocres realmente somos. Não importa o nosso contexto, eventualmente retornaremos a sentir felicidade e tristeza em mais ou menos igual medida. Quem batalhou muito para atingir um objetivo e pouco tempo depois de atingi-lo voltou a sentir-se incompleto, sabe disso na pele. Também sabem aqueles que passaram por momentos muito difíceis, tiveram eventualmente um grande alívio, só para perceber logo mais que a vida não se esgotou de dificuldades. Procurar uma felicidade, um contentamento ou uma paz de espírito permanente é um empreendimento fadado ao fracasso. Por consequência, também é achar que uma tristeza ou situação desfavorável perdurará para sempre. A impermanência, invariavelmente, se coloca. E a vida, como diagnosticou Buda na primeira nobre verdade, é inerentemente dukkha, instável e insatisfatória.
De certa forma, reconhecer dukkha, em um certo nível, é dar fim à busca pela felicidade. Uma outra forma de dizer a mesma coisa seria como Joko Roshi coloca: não ter esperanças de que as coisas sejam diferentes. E nada disso implica em ter uma mente de um arquetípico mestre Zen, que diz “tanto faz” para todas as circunstâncias. É, pelo contrário, como afirmam Barry e Joko: assumir que a mente comum, que nós já temos, é todo o caminho. Como dizem:
Isto é um pouco difícil para a maioria das pessoas compreenderem: não somente a mente da qual estou tentando escapar é a única mente que tenho, mas a mente que estou buscando é também a mente que já tenho. A perfeição que estamos tão ocupados em buscar não é encontrada em nenhum lugar, mas aqui, neste exato momento, independentemente do seu conteúdo. Este é o insight espiritual mais básico que podemos ter.
O que isso quer dizer? Quer dizer que se, em nossas mentes ordinárias, temos raiva, temos raiva. Se temos pensamentos, temos pensamentos. Se estamos tensos, estamos tensos. Somos quem somos e a partir da completa aceitação desse estado, os portais do Dharma se abrem. É uma mente que momentaneamente abandona qualquer esperança, ou desejo, de que as coisas sejam diferentes do que de fato são. Como diz o mestre Kodo Sawaki:
A verdadeira paz mental só existe dentro de uma mente não pacífica.
Quando a insatisfação é finalmente aceita como insatisfação, a paz mental reina. É a mente de uma pessoa que estava surda às críticas, quando finalmente ouve os outros falarem sobre seus erros. É a mente de uma pessoa que, nua e implorando por sua vida, de repente morre em paz. É a mente de uma pessoa que, de repente, perdeu o mendigo que estava puxando sua manga, seguindo-o incansavelmente por toda parte. É a mente após o dilúvio, em que a maquiagem da piedade foi levada pela água.
Muito se foca na questão do apego. O budismo é a religião do desapego, para alguns. Se eu me desapegar de tudo, estarei feliz. Alcançarei a felicidade. O que às vezes se esquece, acredito, é que o outro lado da moeda do apego, a aversão, é tão insidiosa quanto quando se trata de causar sofrimento. Nas instruções de zazen, muito frequentemente se usa a metáfora da casa: “Imagine que está sentado no meio de uma casa, e todas as portas e janelas estão abertas. Nesta casa, as coisas, os pensamentos, as emoções, entram livremente, mas você não vai chamar nenhuma delas para o chá. Deixe que elas fiquem o tempo que quiserem e irem embora quando quiserem”. Esta é uma metáfora realmente maravilhosa, mas um outro aspecto pode ser salientado: não convidamos para jantar, mas também não tentamos expulsar à paulada aquilo que entra.
O que Barry Magid vai dizer é que, em nossa incapacidade de aceitar nossa mente comum, nós temos a tendência a rejeitar e a tentar afastar aquelas coisas que nos irritam, ou, imaginamos, não fazem jus à nós. Principalmente, aquelas que são “egodistônicas”, ou seja, partes de nós que foram separadas de nós mesmos em algum momento e nós rejeitamos. Essas, queremos colocar para baixo do tapete, porque não convém com nossa imagem de budistas bons praticantes. Criamos aversão a elas, e elas, em contrapartida, ficam mais fortes em nossa sombra e continuam invariavelmente afetando nossas ações, quiçá sem a nossa consciência disto. Às vezes, esta incursão vai a pontos tão altos de extremismo e aversão, que tentamos abandonar completamente o nosso “ego”. Colocar a culpa no ego, como às vezes vemos na literatura, é um dos erros mais crassos de tradução que acabam prejudicando a compreensão do Dharma. Ego, originalmente, para a psicologia e a psicanálise, diz simplesmente da capacidade que nós temos de gerir a relação entre nós, nossas necessidades e desejos, e o mundo. É fundamentalmente nossa identidade. O que o budismo procura fazer é deixar esta identidade mais fluida, menos rígida e impositiva. Nunca a abandona completamente: afinal, uma pessoa sem ego não conseguiria agir em sociedade. Infelizmente, às vezes nossa relação com nossa identidade é tão frágil e negativa, que entramos em uma cruzada para destruí-la, ou tentamos substituí-la por uma identidade espiritual ideal: um bom budista, por exemplo.
É por isso que as mais diversas práticas espirituais, dos mais avançados dos mestres que acumulam kenshô e satori, às vezes não são suficientes para evitar que a pessoa cometa uma grande ignorância, um abuso, um maltrato ou seja vítima de uma compulsão ou comportamento autodestrutivo incontrolável. O que foi abandonado volta mais forte: “o retorno do recalcado”. Os casos são tantos que nem é preciso nomeá-los.
Barry considera: não só de experiências místicas de realização do absoluto se faz a prática. Nem só de se sentir um com todas as coisas, nem só de se experimentar a serena tranquilidade que se faz o zazen. Ele continua:
A tensão entre a mente comum como o caminho e a mente comum como problema forma o ponto crucial da prática. Nenhum de nós gosta da mente que tem. Iniciamos a prática porque existem aspectos da nossa mente que não sabemos como aceitar. Cada pessoa terá uma visão diferente do que são essas partes. Para alguns, é a raiva, para outros, é a sexualidade ou ansiedade. Pode ser qualquer coisa que não aceitamos em nossas vidas. Contudo, no nosso sentar nos damos conta de que temos que encarar exatamente aquelas coisas que não queremos encarar.
Nos mosteiros zen, ouvi dizer, a rotina dos monges às vezes é tão intensa e corrida que eles chegam no final do dia extremamente cansados. E isto é feito de propósito, faz parte do design da experiência. Quando estamos cansados, não temos mais forças para fingir sermos outra coisa senão aquilo que somos. A experiência do sesshin é bem parecida: depois de tantas horas sentados em zazen, já não conseguimos lutar contra nossa própria mente.
Algumas vezes, durante minha vida, estive tão cansado, ou tão deprimido e desgostoso com a vida, que não adiantava mais lutar: só restava aceitar e abrir mão. Curiosamente, de repente me via no polo oposto: o ato de ter desistido era justamente o que eu precisava para notar que estava tudo bem. Quando isto acontece, ficamos disponíveis para que a vida aconteça. De repente, o céu é mais azul e o gosto do café é notado. O som dos pássaros é ouvido, o vento sentido na pele; o gosto da tangerina degustado, a importância de estar com a pessoa amada, sentida. Eis a felicidade! Quando eu menos esperava encontrá-la! E nem precisei jogar fora meu ego!
Viktor Frankl, psiquiatra judeu austríaco que ficou preso em Auschwitz durante o holocausto, dizia que não devemos nos perguntar o que queremos da vida, mas sim o que a vida quer de nós. Não somos nós que devemos buscar a felicidade ou o sentido da vida. Basta prestar atenção, abaixar as couraças, aposentar a armadura e deixar que essas coisas cheguem até nós. Às vezes, são justamente esses mecanismos de defesa que erigimos para nos defender de nossos sentimentos que não nos permitem sentir o que de fato deveríamos sentir, o que reforça ainda mais nossa falta de sensibilidade.
Nesses momentos de abertura, quando nós abrimos mão de tentarmos ser qualquer coisa senão quem somos, a vida se mostra, como diz Saikawa Roshi, a cada passo. Mas não é fácil sermos quem somos. Muitas vezes, quando procuramos uma prática como o zazen, queremos mudar algo, ou nos livrar de algum sintoma ou sentimento que nos incomoda. Se tem uma coisa constante em nós, é a mudança. Nós somos mudança. No entanto, curiosamente, só se pode mudar quando nos permitirmos ser justamente esta pessoa que somos. Com nossos defeitos, preocupações, e sim, sofrimento, agora. Mas quantos desvios e quantas viagens em vão não fazemos buscando ser outra coisa?
Isto é chamado na psicologia como a teoria paradoxal da mudança. Nós só mudamos quando aceitamos completamente aquilo que somos. A mudança é um passarinho tímido. Vem se você preparar o terreno. Vem se você deixar tudo pronto para recebê-la, mas se não a procurar com cuidado, ela foge. Sabe o que também é assim? A felicidade. Tudo bem gostar de se sentir feliz. Mas devemos deixar que a felicidade nos aconteça, não necessariamente ficar correndo atrás dela. Você já tentou apanhar um beija-flor? Que gasto de energia seria. Por isto os mestres nos advertem a não ficar buscando incessantemente algo em nossa prática.
Ao mesmo tempo, temos que praticar. Afinal, não há atalhos: só existe um jeito para percebermos, até em nossos ossos, que a mente comum é o caminho: observarmos esta mesma mente. Quando a observamos por tempo suficiente, percebemos que não precisamos ficar brigando com ela. Como finaliza Barry:
A única forma de sair dessa luta é deixar a nossa mente só, para aceitar completamente o que temos: raiva, dualismos e tudo mais. Quando não mais nos julgamos ou tentamos emocionalmente neutralizarmo-nos, a tensão e os conflitos internos gradualmente começam a se aquietar.
Texto por Matheus Anshin, praticante da comunidade zen-budista Daissen. Revisado por Monge Kômyô.
Referências:
Barry Magid. Adriana Couto Silva (Tradutor), Christina Guidorizzi (Tradutor). Dando fim à busca da felicidade: Guia do Zen Budismo (Portuguese Edition). 2022.
Joko Beck. Nada de Especial – Vivendo Zen. Editora Saraiva. 1994.
Kodo Sawaki. To You (2). 33. To you who are out of your mind trying so hard to attain peace of mind. Tradução de Matheus Anshin. Disponível em: https://antaiji.org/en/services/kodo-to-you-2/